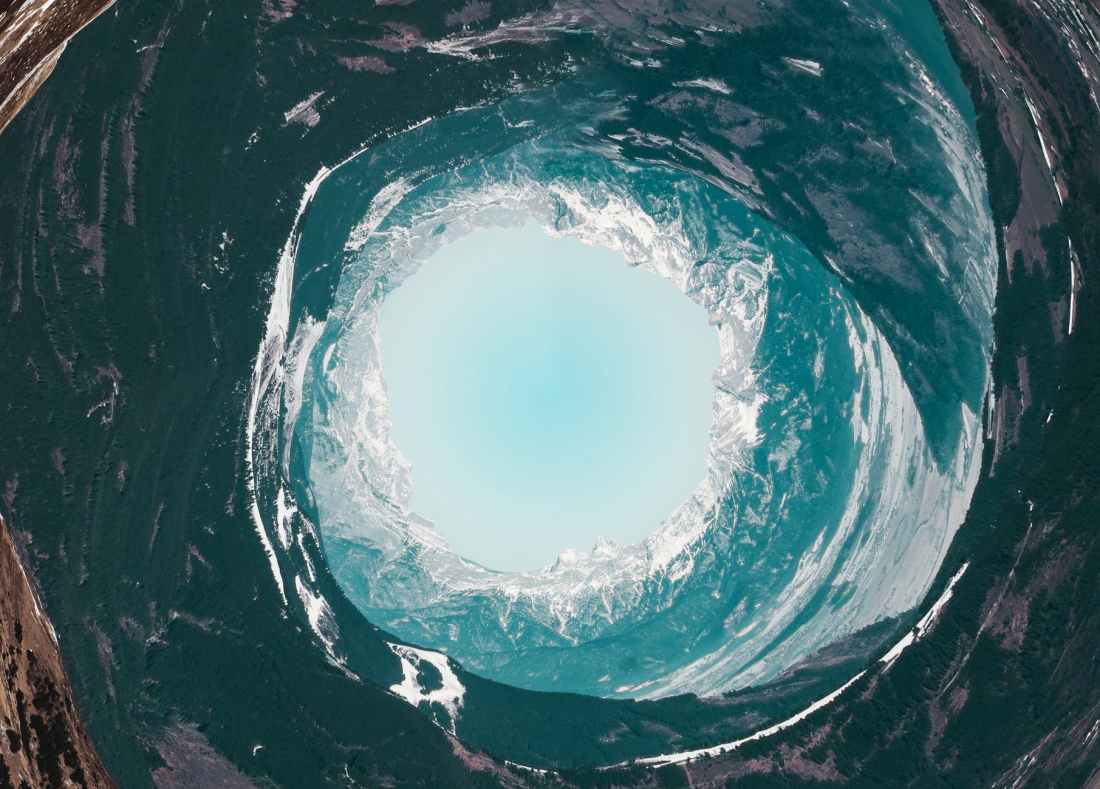A meu avô Antônio, de quem nunca ouvi a voz.
Novembro de 2019, a quinta aula do dia, um calor do cão. Kauan é mandado para minha sala porque estava tentando se cortar com a lâmina do apontador. Um menino alto e robusto de bochechas rosadas e uns cílios que custam caro em salões de beleza por aí. Comecei a conversa casualmente, como quem fala sobre o tempo ou sobre o preço do leite para tentar entender o que havia por trás do ocorrido.
“Você já veio para a direção hoje, né?”
“Aham” – balbuciava enquanto limpava as lágrimas que não paravam de rolar pela face.
“Mas, por que era mesmo? Era por que você estava conversando na aula da Vera, não era?”
“Era…”
“Aí depois vocês foram pro intervalo?”
“Aham.”
“E como foi no intervalo?”
“Foi legal. A gente jogou free fire e combinou de jogar mais depois da aula, lá em casa.”
“Mas então, porque você está triste?”
Ele olhou pra baixo, deu de ombros e disse:
“É que já faz um tempo, meu avô morreu” – e mais lágrimas escorreram pela sua bochecha. Naquele momento, minha vontade era abraçá-lo e chorar junto. Meu coração se apertou um pouquinho. Senti saudades do avô dele que nem cheguei a conhecer.
“Ele morreu do quê?” – pergunto segurando meu rosto com as mãos e demonstrando grande interesse pela história do avô.
“Ele teve uma doença e perdeu a perna. Aí, ele não aguentou e morreu depois.”
“Ele teve diabetes? Como ele chamava?”
“Teve. Ele chamava Valdomiro.”
“Entendi. Então tava tudo bem na hora do intervalo, mas aí na aula de Ciências você começou a ficar triste?”
Ele balançou a cabeça apontando que sim. Então, perguntei:
“Mas na hora que se sentiu triste, você tava fazendo o que?”
“Tava copiando a lição.”
“E sobre o que era a lição?”
“Era um texto sobre quando as frutas apodrecem.”
“E o que acontece quando as frutas apodrecem?”
“Elas morrem.”
As frutas morrem. Assim como os pássaros, como as flores, como os bichos, Assim como o seu Valdomiro, eu e você.Tudo o que um dia vive, morre. E Kauan aprendeu aos 11 anos uma covarde lição da vida: até os avós morrem. Infelizmente, eles morrem. Essa lição, aprendi aos 16.
Era uma noite de sábado. Erotides, a quem todos chamavam de Nego, apesar da pele clara e dos olhos azuis, colocou delicadamente a minhoca no anzol e o lançou ao rio. A escuridão do céu o acompanhava e ele sentia o balançar suave da canoa. A lua prateada o iluminava e trazia uma atmosfera quase mística à cena. Ele lembrou da esposa e dos assados que ela fazia com os peixes frescos que ele mesmo pescava. Pensou nos filhos e no orgulho que tinha de tê-los ensinado a pescar e a gostar disso. Se lembrou dos netos e de seus primeiros peixes.
Sorriu.
O cheiro da água e da vegetação do lugar se misturavam e ele podia ouvir ao longe as cigarras cantando. Sentado ali na canoa, enquanto esperava o peixe morder sua isca, ele e aquele lugar se tornaram um só e ele se sentiu completo. Paz e amor preencheram seu coração de mais de setenta anos. Foi tanto amor e tanta plenitude que não coube.
Ele me chamava de galega. Eu era pequena e me lembro de estar em cima do pesqueiro e perceber uma vara se envergando. Sem pensar muito, agarrei a vara e comecei a girar o molinete para tirar o peixe da água. O peixe era forte e eu estava ansiosa, torcia para que a linha não arrebentasse e continuava girando o molinete sem parar. O suor escorria pelo meu rosto, nao sei se pelo calor daquele dia quente ou se pelo esforço que fiz para tirar aquele peixe da água. Quando finalmente o joguei em cima do pesqueiro, ouvi meus tios e meu pai vibrando e rindo. Eu havia pescado. Meu avô é que tinha armado aquela vara, o que tornava ele co-autor do meu feito. Me senti muito especial naquele dia. Vitoriosa. Me senti forte. E me senti muito próxima de meu avô.
Quando fecharam o caixão, selando sua trajetória neste mundo, meu coração se acelerou dentro de meu peito e deu um grito tão agudo, tão agudo, tão agudo, que embora inaudível para os presentes naquele velório, está marcado até hoje na minha memória. Quando lembro dele, penso que a voz da morte deve ser assim. Há 18 anos, o choro sofrido daquele dia ainda brota nos meus olhos de tempos em tempos. Se a voz da morte ainda escuto no choro que me retorna, a voz do meu avô se perdeu em mim e já não sei mais como é.
Assim como seu Valdomiro, meu avô deixou no mundo netos com muitas saudades.
Naquela tarde quente de novembro, Kauan e eu conversamos sobre o ciclo da vida, sobre sentir saudade, sobre chorar. E eu revivi na memória um pouquinho do meu avô.
No fim das contas, não era o pulso que Kauan tentava cortar com aquela lâmina fajuta que apenas o arranhou e o mandou para a direção. O que Kauan queria mesmo era arrancar de dentro de si a tristeza de não ter mais seu avô todos os dias lhe esperando chegar da escola, lhe ensinando coisas. Ele queria arrancar de todos os seus poros a saudade de ouvir a voz do seu avô lhe fazendo perguntas, contando histórias, lhe dizendo “Eu te amo”.
O que ele queria realmente, o que ele queria mesmo, era que os avós fossem imortais.
Eu também queria. Eu queria ouvir uma vez mais, enquanto dava tapinhas em minhas costas, aquela voz firme e calorosa me dizendo: “Galega, galega!”